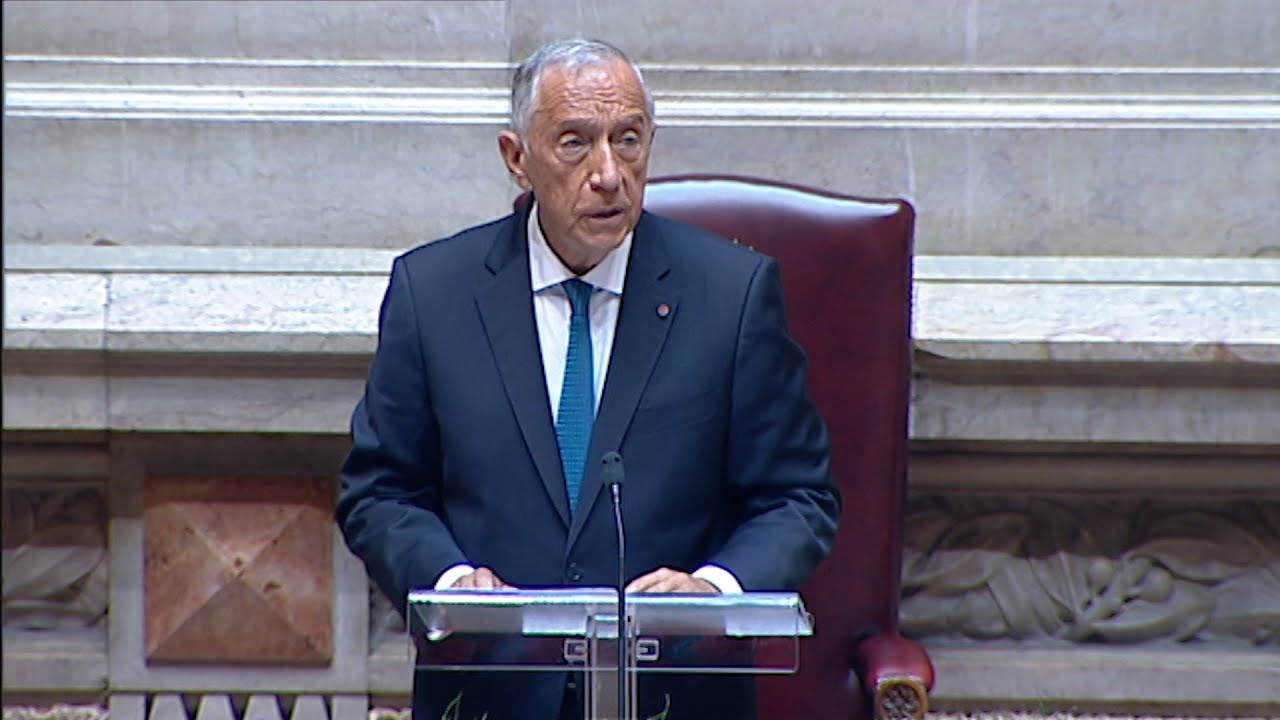Senhor Presidente da Assembleia da República,
Senhor Primeiro-Ministro,
Senhora e Senhores Presidentes do Supremo Tribunal de Justiça, do Tribunal Constitucional, do Supremo Tribunal Administrativo e do Tribunal de Contas,
Senhor Presidente António Ramalho Eanes,
Senhores membros do Governo,
Digníssimos convidados,
Senhoras e Senhores Deputados,
Portugueses,
Passaram, há um mês, sessenta anos sobre o início de um tempo que haveria de anteceder e determinar a data de hoje, aquela que aqui evocamos, 25 de Abril de 74.
Um tempo feito de vários tempos e modos que para sempre marcou a vida de mais de um milhão de jovens saídos das suas terras para atravessarem mares e viverem e morrerem noutro continente ou dele regressarem alguns com traços indeléveis na sua saúde.
Que para sempre marcou a vida das suas famílias, dos seus lugares, das suas aldeias, das suas vilas e mesmo das suas cidades, no fundo de todo um Portugal durante treze anos ou um pouco mais.
Que para sempre marcou a vida daqueles que, por opção de princípio, recusaram aquela partida e rumaram a outros destinos continuando ou iniciando uma luta contra o que estava e queria permanecer.
Que para sempre marcou a vida dos que já lá vivendo idos eles ou os seus antepassados de terras daquém mar de lá vieram, no termo desses longos anos, ou lá ficaram e estão para ficar.
Que para sempre marcou a vida dos que viveram e morreram do outro lado da trincheira para conquistarem o que alcançaram definitivamente depois do 25 de Abril de 74.
Que para sempre marcou a vida de famílias, de lugares, de aldeias, de vilas e mesmo de cidades de Pátrias afirmadas como Estados independentes após treze anos ou um pouco mais de um tempo ainda não tão vizinho de nós e, todavia, já tão longínquo para tantas gerações.
Que não foi um tempo desprendido de outros tempos. Foi o que foi porque as décadas que o precederam, o século que o precedeu, os cinco séculos que o precederam criaram ou prolongaram contextos que o haveriam de definir e condicionar.
E por isso é tão difícil dir-se-ia até impossível explicar qualquer que seja a visão de cada qual esses treze anos ou um pouco mais sem falar do Portugal dos anos 20 aos anos 70; do Portugal do final do século XIX aos anos 20; do Portugal dos vários pequenos ciclos de que se fizeram o Império Colonial e as relações coloniais nele vividas.
Olhar com os olhos de hoje e tentar olhar com os olhos do passado que as mais das vezes não nos é fácil entender sabendo que outros, ainda, nos olharão no futuro de forma diversa dos nossos olhos de hoje.
Acreditando muitos, nos quais me incluo, que há no olhar de hoje uma densidade personalista, isto é, de respeito da dignidade da pessoa humana e dos seus direitos, na condenação da escravatura e do esclavagismo, na recusa do racismo e das demais xenofobias que se foi apurando e enriquecendo, representando um avanço cultural e civilizacional irreversível.
Acreditando muitos, nos quais também me incluo, que o olhar de hoje não era nas mais das vezes o olhar desses outros tempos.
O que obriga a uma missão ingrata: a de julgar o passado com os olhos de hoje, sem exigir, nalgumas situações, aos que viveram esse passado que pudessem antecipar valores ou o seu entendimento para nós agora tidos por evidentes, intemporais e universais, sobretudo se não adotados nas sociedades mais avançadas de então.
Se esta faina é ingrata para séculos remotos que não se pense que ela é desprovida de dificuldades para tempos bem mais recentes.
Continua a ser complexo entendermos tantos olhares do fim do século XIX quando os impérios esquartejaram a regra e esquadro o continente africano ou do começo do século XX quando o império monárquico passou a império republicanos
Mais óbvio é pelo contrário o juízo sobre o passado ainda mais recente quando outros impérios terminaram e o império português retardou, por décadas, o processo descolonizador recusando-se a ouvir conselhos da História e apenas extinguindo o indigenato nos anos 60, ou seja, uma dúzia de anos antes de 74.
Este revisitar da história aconselha algumas precauções. A primeira é de não levarmos as consequências do olhar de hoje, sobre os olhares de há 8,7,6,5,4,3, 2 séculos ao ponto de passarmos de um culto acrítico triunfalista exclusivamente glorioso da nossa história, para uma demolição global e igualmente acrítica de toda ela, mesmo que a que a vários títulos é sublinhada noutras latitudes e longitudes.
Monarcas absolutos e, portanto, ditatoriais aos olhos de hoje, e foram a maioria, seriam globalmente condenados independentemente do seu papel na Fundação, na unificação territorial, na Restauração, na diplomacia europeia intercontinental.
Com monarcas e governantes no liberalismo, que os houve, prospetivos na história que fizeram ou refizeram no século XIX às vezes com a singularidade improvável de um Príncipe Regente no Brasil, filho primogénito do nosso Rei, que declarou a independência dessa potência do presente e do futuro sendo o seu primeiro Imperador e vindo a lutar pela liberdade e a morrer em Portugal, no mesmo quarto onde nascera trinta e cinco anos duas coroas e uma independência antes. Ou personalidades do liberalismo republicano importantes no centro ou na periferia do Império como Norton de Matos.
Segunda precaução: é de aprendermos a olhar, em particular quanto ao passado mais imediato, com os olhos que não são os nossos, os do antigo colonizador, mas os olhos dos antigos colonizados, tentando descobrir e compreender, tanto quanto nos seja possível, como eles nos foram vendo e julgando, e sofrendo, nomeadamente onde e quando as relações se tornaram mais intensas e duradouras e delas pode haver o correspondente e impressivo testemunho.
Terceira precaução: essa a mais sensível de todas por respeitar a tempos muito, muito presentes nas nossas vidas. Aqueles de nós portugueses que têm menos de 50 anos não conheceram o Império colonial nem nas lonjuras nem na vivência, aqui, no centro. O seu juízo é naturalmente menos emocional, menos apaixonado. Admito que assim não seja, porém, em muitos jovens das sociedades que alcançaram a independência contra o Império Português e viveram depois décadas conturbadas pelos reflexos de vária natureza da anterior situação colonial.
Já para os portugueses com mais de 50 ou 55 anos o revisitarem a infância ou a juventude é mais desafiante. É uma mistura de recordações, de novos mundos descobertos, de desenraizamentos ou novos enraizamentos, de primeira desertificação do interior do Continente, de migrações e muitas mais imigrações, de transformações pessoais, familiares, comunitárias, de mortes choradas, de sinais na saúde e na vida, de traumas os mais diversos e em momentos diferentes por aquilo que sonharam e se fez, por aquilo que sonharam e se desfez, pelo que sofreram e ficou, pelo que esperaram aguentaram e sentem nunca ter tido reconhecimento bastante.
Para todos eles e muitos mais o juízo é tão complexo como complexa foi a mudança histórica que neste dia evocamos, na sua abertura para a Descolonização, para o Desenvolvimento, para a Liberdade, para a Democracia. Desenvolvimento, Liberdade e Democracia, sabemo-lo todos, sempre foram imperfeitos e por isso não plenos. Porque nunca tendo resolvido uma pobreza estrutural de dois milhões de portugueses e desigualdades pessoais e territoriais, e desinstitucionalizações, que aqui referi em 2016 e 2018, que a pandemia veio revelar e acentuar.
Mas foi complexa essa mudança histórica em 74. Fruto da resistência de muitas e muitos durante meio século com os seus seguidores políticos sentados neste hemiciclo. Ela ganhou o seu tempo e o seu modo decisivos no gesto essencial dos Capitães de Abril, aqui qualificadamente representados pela Associação 25 de Abril e que saúdo, reconhecido, em nome de todos os portugueses. Esses Capitães de Abril não vieram de outras galáxias, nem de outras nações, nem surgiram num ápice naquela madrugada para fazerem história. Transportavam consigo já a sua história, as suas comissões em África, uma, duas, três, alguns quatro, anos seguidos nas nossas Forças Armadas, tendo de optar todos os dias entre cumprir ou questionar, entre acreditar num futuro querido ou que outros definiam ou não acreditar, entre aceitar ou a partir de certo instante romper, tudo em situações em que a linha que separa o viver e morrer é muito ténue apesar dos princípios, das regras, dos ditames escritos por políticos e juristas em gabinetes, que não são os cenários em que a coragem se soma à sobrevivência e à solidariedade na camaradagem. Pois foram estes homens, eles mesmos, não outros, os heróis naquela madrugada do 25 de Abril.
Como haviam sido eles e muitos, muitos mais os combatentes ano após ano nas longínquas fronteiras do Império. Como foram eles quem acabou por aceitar para símbolos públicos face visível da mudança oficiais mais antigos encimados pelos que haveriam de ser os dois primeiros Presidentes da República na transição para a Democracia. Que não eram, não tinham sido militares de alcatifa. Tinham sido grandes chefes militares no terreno e nele responsáveis por anos de combate, de coordenação com serviços de informação e de atuação antiguerrilha, de proximidade das populações.
Foi assim aquele dia 25 de Abril antes de suscitar o Processo Popular Revolucionário que o seguiu e apoiou. Antes de ser hoje património nacional em que o seu único soberano é o povo português.
Foi no seu eclodir resultado de décadas de resistência e depois crucialmente grito de revolta de militares que tinham dado anos das suas vidas à Pátria no campo de luta e que sentiam estar a combater sem futuro político visível ou viável presididos eles, e todos nós, por dois Chefes Militares um após outro que tinham conhecido intensa e prolongadamente o que é a guerra de guerrilha em missões militares e cargos politico ou militares os mais relevantes.
Eis por que razão é tão justo galardoar os Militares de Abril tendo merecido já uma homenagem muito especial aquele, de entre eles, que depois de ter estado no terreno veio a ser peça chave na mudança de regime e primeiro Presidente da República eleito da democracia portuguesa, e que sempre recusou o Marechalato que merecia e merece, o Presidente António Ramalho Eanes.
Eis também porque é tão difícil o juízo sobre uma história tão recente salvo naquilo que é de mais óbvio consenso: o consenso naquilo em que o Império não entendeu o tempo que o condenara. A ditadura não podia entender o tempo que a tinha condenado de forma irrefragável e ainda mais evidente a partir de 58 e da saga de Humberto Delgado e a relação colonial não conseguira entender a raiz da inevitabilidade da sua inconsequência.
Estas reflexões são atuais porque nada como o 25 de Abril para repensar o nosso passado quando o nosso presente ainda é tão duro e o nosso futuro é tão urgente.
E ainda porque a cada passo pode ressurgir a tentação de converter esse repensar do passado em argumento de mera movimentação tática ou estratégica num tempo que ainda é será de crise na vida e na saúde e de crise económica e social encaremos com lúcida serenidade o que pode agitar o confronto político conjuntural, mas não corresponde ao que é prioritário para os portugueses. E além de não ser prioritário nestes dias de crises é duvidoso que o seja alguma vez.
É prioritário estudar o passado e nele dissecar tudo: o que houve de bom e o que houve de mau. É prioritário assumir tudo, todo esse passado, sem autojustificações ou autocontemplações globais indevidas, nem autoflagelações globais excessivas.
E no caso do passado mais recente assumir a justiça largamente por fazer ao mais de um milhão de portugueses que serviram pelas armas o que entendiam ou lhes faziam entender constituir o interesse nacional. Aos outros milhões que cá ou lá viveram a mesma odisseia. Aos milhões que lá e cá a viveram do outro lado da história combatendo o Império colonial português batendo-se pelas suas causas nacionais ou a viveram do mesmo lado, mas ficaram esquecidos, abandonados por quem regressou e condenados por quem nunca lhes perdoou o terem alinhado com o oponente.
Aos muitos, e eram quase um milhão, que chegaram rigorosamente sem nada depois de terem projetado uma vida que era ou se tornou impossível. Aos muitos, e eram milhões, que sofreram nas suas novas Pátrias conflitos internos herdados da colonização ou dos termos da descolonização.
Até por respeito para com todas estas e a todos estes, que se faça história e história da História, que se retire lições de uma e de outra sem temores nem complexos, com a natural diversidade de juízos, própria da democracia. Mas que se não transforme o que liberta, e toda a revisitação o mais serena possível e liberta ou deve libertar em mera prisão de sentimentos, úteis para campanhas de certos instantes, mas não úteis para a compreensão do passado a pensar no presente e no futuro.
O 25 de Abril foi feito para libertar, sem esquecer nem esconder, mas para libertar e os que o fizeram souberam superar muitas das suas divisões durante a Revolução e depois dela a pensar na unidade essencial da mesma Pátria tomando os termos simplificadores desses tempos sensibilidades diferentes no Movimento das Forças Armadas que se chocaram então não deixaram de entender depois que a unidade essencial de uma rutura depois feita Revolução ela própria composta de várias revoluções tudo o mais sobrepuja. Nações irmãs na língua têm sabido encontrar-se connosco e nós com elas e têm sabido julgar um percurso comum olhando para o futuro ultrapassando séculos de dominação política, económica, social, cultural e humana.
Que os anos que faltam até ao meio século do 25 de Abril sirvam a todos nós para trilharmos um tal caminho como a maioria dos portugueses o tem feito nas décadas volvidas fazendo de cada dia um passo mais no assumir as glórias que nos honram e os fracassos pelos quais nos responsabilizamos, e bem assim no construir hoje coesões e inclusões e no combater hoje intolerâncias pessoais ou sociais.
Quem vos apela a isso mesmo é o filho de um governante na Ditadura e no Império, que viveu na que apelida de sua segunda Pátria o ocaso tardio inexorável desse Império, e viveu depois, como constituinte, o arranque do novo tempo democrática. Charneira como milhões de portugueses, entre duas histórias da mesma História e nem por exercer a função que exerce olvida ou apaga a história que testemunhou. Como nem por ter testemunhando essa história deixou de ser eleito e reeleito pelos portugueses em democracia. Democracia que ajudou a consagrar na Constituição que há 45 anos nos rege.
Que o 25 de Abril viva sempre, como gesto libertador e refundador da história. Que saibamos fazer dessa nossa história lição de presente e de futuro, sem álibis nem omissões, mas sem apoucamentos injustificados querendo muito mais e muito melhor.
Não há, nunca houve um Portugal perfeito.
Como não há, nunca houve um Portugal condenado.
Houve, há e haverá sempre um só Portugal. Um Portugal que amamos e nos orgulhamos para além dos seus claros e escuros também porque é nosso.
Nós somos esse Portugal.
Viva o 25 de Abril!
Viva Portugal!